A desgraça como estado natural ou Vale a pena. Não vale a pena.
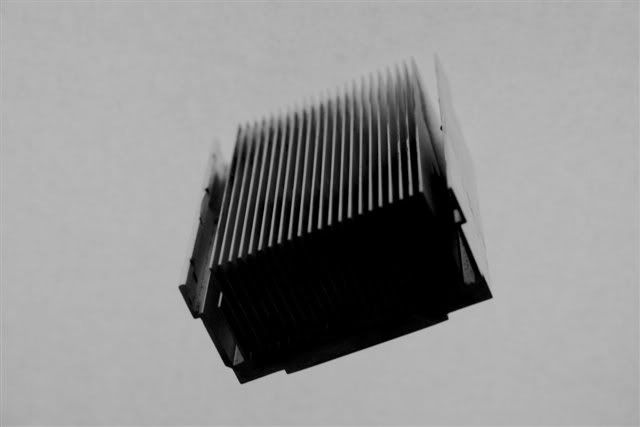
crónica de 13 de janeiro de 2012 no jornal i. Hoje leia no i, O décimo primeiro
A destruição da Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial foi descrita por W.G. Sebald num livro que se chamou Guerra Aérea e Literatura. O livro seguiu-se a uma série de lições sobre o tema que Sebald proferiu em Zurique no final de 1997. Foi publicado em 2003 e traduzido e editado entre nós em 2006 com o título História Natural da Destruição. Apesar do meu interesse por uma época da qual conhecera tantos intervenientes, só nessa altura, como muitos leitores, tomei conhecimento da barbaridade desses acontecimentos envolvendo, na esfera da decisão, os avós dos nossos contemporâneos ingleses e tendo como figurantes simpáticos anciãos como o papa Ratzinger.
Em 1975 a descolonização do império português deu origem a outro drama silencioso. Num ambiente de guerra civil, milhares de famílias regressaram a uma metrópole desfigurada que lhes retirara qualquer lugar simbólico. Os relatos ficcionados desse exílio começaram a aparecer há pouco e O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, foi justamente considerado como um dos acontecimentos editoriais do ano de 2011. Foram precisos cinquenta anos para um escritor alemão com notoriedade se debruçar sobre o horror e a humilhação dos vencidos da Segunda Guerra e trinta e cinco para uma portuguesa transformar em novela o retorno dos colonos no ano da independência de Angola. Como se uma lei estipulasse que quanto mais grave é a realidade mais afastados dela teremos de estar para a retratar.
No livro de Dulce Maria Cardoso uma família regressa a Portugal sem o pai, preso antes do embarque por um grupo armado. À chegada, a mãe oculta este facto e justifica a ausência com histórias pueris.
Se os acontecimentos não são comparáveis a vergonha dos derrotados é a mesma. Coetzee descreveu-a como um castigo que não se recusa, que se vive todos os dias tentando aceitar a desgraça como um estado natural. Sebald fala de um justo castigo, de um poder mais alto que não se pode contestar, um segredo de família vergonhoso.
No último dia do ano que acabou, saí cedo da casa onde dormira. Na rua cruzei com um grupo que ainda não esvaziara completamente o líquido de cor repugnante de uma daquelas garrafas de litro e meio. Andavam com determinação, como se tivessem um destino. Estava frio, mas o rapaz que caminhava à frente tinha a camisa desapertada. Eram secos de corpo e de olhos muito fundos. Atrás vinha uma mulher de preto até às pálpebras. Quando passou por mim disse por duas vezes: “Não vale a pena”.
No hospital, entre os internamentos da noite, estavam três adolescentes. De madrugada, ao fumarem fertilizantes de plantas, um deles caiu exânime e feriu-se no queixo. Ao ver o sangue, o segundo adolescente tombou prostrado ao lado do primeiro. Minutos depois foi a vez do terceiro desmaiar. Quando chegaram ao hospital, o rapaz da ferida no queixo recitava um poema que a médica de turno não foi capaz de identificar e os dois amigos, já restabelecidos, tremiam, ao que disseram apreensivos com a situação do ferido.
No final da manhã saí do hospital e sentei-me na praça C. A praça tem uma estátua, um café e uma esplanada de geometria variável. As pessoas arrastam mesas e cadeiras acompanhando o movimento do sol. Fiz o mesmo, surpreendido com a velocidade da sombra e a perfeição da coreografia. Ao terceiro movimento sorri para os que estavam mais próximos, mas eles ignoraram-me. Entrei depois numa igreja cujo adro fora ocupado por escuteiros laicos, fugidos aos responsáveis. Duas raparigas tinham-se sentado na segunda fila da nave, amparando mutuamente um sono de luxúria. Quis fotografá-las mas algo me impediu de o fazer, entre o abandono delas e o olhar confundido do filho de Deus. Em seguida desci ao centro histórico. Um pedinte gritava “Ladrões” e recolhia as moedas de um tapete imundo. Uma miúda muito magra pediu-me lume. Tinha vários malabares na mão, mais do que mãos humanas conseguem segurar. Acendi-lhe o pavio que me estendia e, ao pressionar o isqueiro, pensei: “É o fogo que Smiley dá a Karla”. Ela dirigiu-se à base de um candeeiro que usava como camarim. Entre os seus pertences havia duas garrafas. De uma delas, imprudentemente, emborcou uma considerável quantidade de líquido. Com o pavio acendeu as tochas. Atirava-as ao ar com notável perícia. Depois cuspiu o fogo por três vezes. Voltou a aproximar-se de mim. Aquilo parecia-me bastante perigoso. Foi a coisa mais inteligente que encontrei para lhe dizer. “Porque usa querosene, minha querida? Parafina é muito mais seguro.” Ela respondeu, sem parar de se movimentar. “Eu sei, é perigoso, mas vale a pena, é bastante rentável. A parafina está a custar seis euros, três vezes mais que o querosene”. Limpou a boca, bebeu um gole de água. “ Tenho de aproveitar estes dias antes que chegue a chuva”. E depois de abafar as tochas aproximou-se das mesas dos cafés mais próximos e estendeu um chapéu aos ocupantes recolhendo algumas moedas. “Acabou?”- perguntei-lhe. “Não, não acabou.”- respondeu . “ Está apenas a começar”.
Etiquetas: Crónica do i

0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial